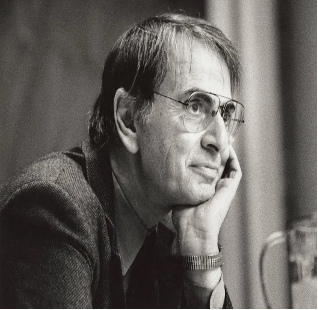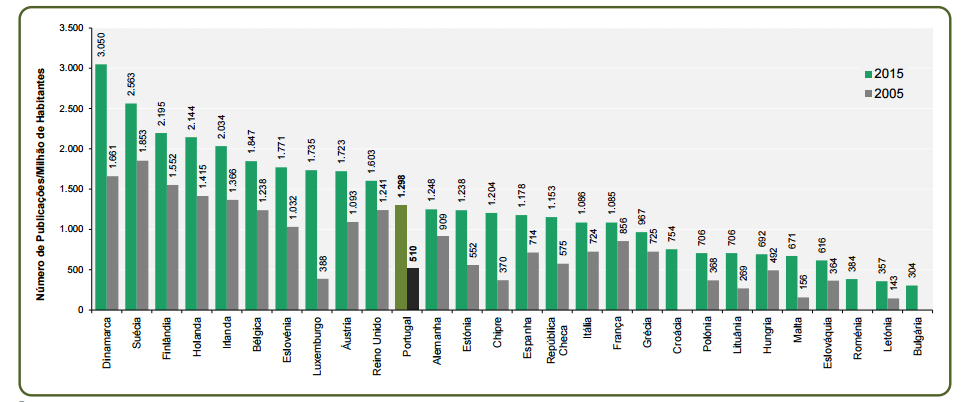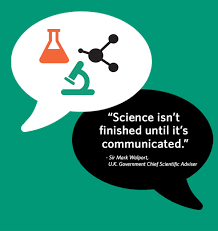Ao longo das últimas décadas temos visto o florescer desenfreado das aplicações de ciências computacionais no mundo real – desde fotografias que ficam bem independentemente da incompetência do fotógrafo até tecnologias de vigilância em massa, o mundo foi tomado de assalto. Por causa disso, nos últimos anos temos sido forçados a olhar cada vez com mais atenção para estas práticas e a considerar a sua perceção para o público geral. Uma das situações a atrair mais atenção tem sido a pandemia COVID-19: da noite para o dia, toda a gente – desde cientistas com décadas de experiência até pessoas que aprenderam a dada altura a fazer um gráfico no Excel – quis ter a sua opinião. Um dos grandes produtos foram os modelos para prever o desenvolver da pandemia – como é que os casos vão aumentar? Onde vai parar o R? O que é o pico da pandemia? O que é um postigo e quando é que as esplanadas abrem? Os modelos tornaram-se em áugures de horrores e esperanças, em ferramentas de decisão. Contudo, por vezes erram. Porquê?
A vida numa folha de papel e o papel das aproximações na biologia
“Que cem flores desabrochem.”
Mao Zedong, revolucionário chinês e fundador do Partido Popular da China
“Não sou só uma e simples, mas complexa e muitas.”
Virginia Woolf, escritora britânica
O campo da modelação biológica – a descrição matemática e teórica de fenómenos biológicos – não é novo. Foi no século XIII que Fibonacci usou a, agora famosa, série de Fibonacci para descrever uma população de coelhos ao longo do tempo. Thomas Malthus, o infame economista britânico, criou modelos para o futuro da população humana na terra considerando um crescimento exponencial no final do século XVIII. Leonor Michaelis e Maud Menten estudaram processos enzimáticos de uma perspetiva dinâmica para chegarem à fórmula da cinética de Michaelis-Menten, o logaritmo que lhes vale agora estadia garantida em qualquer plano curricular de bioquímica. A biologia é composta em grande parte de fenómenos reais e difíceis de analisar que, ao serem simplificados, podem ser quantificados de uma forma abstrata através da sua descrição teórica e matemática – passamos a ter a vida representada numa folha de papel ou, mais recentemente, num chip à base de silício.
No entanto, não são propriamente estes os modelos que agora nos enchem os ouvidos – rodeados pelo clima pandémico, estamos cada vez mais atentos às curvas de casos, ao desenvolvimento do número de reprodução (o famoso R, que quantifica o número de pessoas que cada pessoa infetada infeta), ao efeito comparativo que diferentes medidas de confinamento ou intervenções não-farmacêuticas (INC) têm no decorrer de uma pandemia à escala mundial. É certo que a epidemiologia – a ciência que estuda os padrões e a frequência de eventos que afetam a saúde de uma determinada população – também em nada se assemelhava àquilo que vemos hoje. No século XIX, John Snow (não, não é esse) usou um mapa de Londres para assinalar os focos de contágio de cólera, conseguindo assim identificar a fonte da epidemia, uma bomba de água. Nesta altura pouco podemos dizer sobre a componente teórica da epidemiologia, era, afinal de contas, o nascimento desta área.
Atualmente a epidemiologia das doenças infeciosas e transmissíveis é uma área complexa, governada por uma diversidade de abordagens e focada na descrição de fenómenos complexos de transmissão e caracterização de doenças. Do ponto de vista da modelação e de forma muito genérica, muitas das estratégias usadas tentam quantificar a rapidez com que uma determinada população de indivíduos suscetíveis (S) fica infetada (I) e recupera/morre (R, durante o qual ficam imunes) – nasce assim o modelo SIR. Podemos considerar um modelo mais simples, em que os recuperados ficam de novo suscetíveis, nascendo assim o modelo SIS. Contudo, caminhar na direção da simplicidade leva frequentemente a explicações mais fracas e/ou redutoras – podemos então considerar que o estado R se divide em recuperados (novamente R) e mortos (D, do inglês deceased) e nasce assim o modelo SIRD. Podemos ainda acrescentar um período de incubação, durante o qual consideramos que o indivíduo ficou exposto (E) à infeção – nasce assim ainda outro modelo, o SEIR. Podemos ainda considerar que, algum tempo depois da recuperação, um indivíduo volta a ficar infetado, nascendo assim o modelo SEIRS. Reparem que o nome de cada modelo revela a trajetória de cada indivíduo numa circunstância em que a doença circula livremente. Contudo, quando incluímos vacinações em grande escala acrescentamos uma nova transição relevante: de suscetível para recuperado. Temos ainda ritmos de transição distintos entre cada estado consoante as terapias disponíveis, confinamentos implementados, INC (como a recomendação de máscaras e lavagem das mãos regular), demografia da população e disponibilidade dos serviços médicos – isto se nos focarmos em fatores quantificáveis (os fatores não quantificáveis, como a adesão da população a determinadas medidas ou aspetos culturais, são quase impossíveis de quantificar a uma escala nacional). De um fenómeno relativamente simples de compreender – alguém infeta outra pessoa – nasce um comportamento emergente com uma quantidade não quantificável de fatores, que são aproximados por uma quantidade crescente de métodos: de uma semente desabrocham centenas de flores.
Por norma, quando falamos em modelos matemáticos da COVID-19, estamos a referir-nos a uma abordagem semelhante a/ou baseada nas que foram descritas no parágrafo anterior. Contudo, a pergunta que se impõe continua por clarificar – porque é que erram? São os modelos que estão errados ou é a sua aplicação por cientistas que está incorreta? A resposta é complicada – algo que pode não agradar a quem se manifesta politicamente através de jogos de culpas. Mas prossigamos.
Posso não saber tudo mas posso saber o que não sei – incertezas
“Por muito bem que perceba algo, a minha compreensão só será uma fração infinitesimal de tudo aquilo que quero perceber.”
Ada Lovelace, matemática e escritora inglesa, autora do primeiro algoritmo a ser usado num computador.
“Há conhecidos conhecidos; há coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que há desconhecidos conhecidos; isto é, há coisas que sabemos que não sabemos. Mas também há desconhecidos desconhecidos – aquilo que não sabemos que não sabemos.”
Donald Rumsfeld, antigo secretário da defesa dos EUA.
Quando usamos um modelo para quantificar um determinado fenómeno biológico estamos, por definição, a aproximar um fenómeno complexo a algo que conseguimos medir. Por exemplo, se eu calcular quanto mede, em média, uma pessoa em Portugal medindo 500 pessoas que eu conheça – fingindo que eu conheço 500 pessoas – vou estar a cometer alguns erros de aproximação. E se eu conhecer muitas pessoas altas? A minha estimativa ficará então enviesada – o valor para a média de alturas que eu estimo usando uma amostra será diferente do verdadeiro valor da população.
O teorema do limite central (TLC) – um dos teoremas fundamentais da estatística – diz-nos que a aproximação de uma média é menos incerta quando o tamanho da nossa amostra é maior. Sem problema – supondo que eu sei que a média da minha amostra está errada, posso simplesmente medir pessoas que veja na rua (depois de lhes perguntar se o posso fazer, obviamente). Logo por azar a Convenção de Pessoas Invulgarmente Altas está a acontecer na cidade onde eu vivo, o que leva a que a minha amostra fique ainda mais enviesada. Isto prova que o TLC está errado? A resposta é não, apenas prova que eu me esqueci de uma das suposições do TLC: quando construo a minha amostra, devo certificar-me que a minha amostra da população é aleatória. As pessoas que eu conheço não são uma amostra aleatória, tal como as pessoas que vão à Convenção de Pessoas Invulgarmente Altas. É extremamente fácil deixarmos que um modelo nos “engane” quando nos esquecemos de respeitar as suas suposições.
Os modelos de epidemiologia têm suposições também – o modelo SIR, por exemplo, assume que há uma mistura homogénea de pessoas infetadas e suscetíveis, por exemplo, e outros modelos epidemiológicos assumem que INC atuam de forma linear e mais ou menos específica. É difícil que isto seja verdade – as pessoas doentes têm tendência a isolar-se e as pessoas suscetíveis têm tendência a afastar-se de pessoas que estejam infetadas, as INC não levam necessariamente a alterações lineares. Contudo, os modelos epidemiológicos – consoante os ajustes adequados – tendem a produzir estimativas que aproximam o mundo, mesmo quando algumas suposições não são exatamente verdade. Para fazerem isto englobam alguma quantidade de incerteza nas suas estimativas – este grau de incerteza não é mau porque nos permite quantificar com alguma precisão aquilo que efetivamente sabemos, abrindo alas à quantificação daquilo que sabemos que não sabemos. Atingimos assim um equilíbrio poderoso que permite que peritas e peritos aconselhem a classe política e responsáveis por saúde pública ao usarem modelos que são corretos o suficiente para criar cenários hipotéticos.
No famoso relatório 9 do Imperial College London, havia uma previsão para entre 400.000 e 550.000 mortes só no Reino Unido. Alguns negacionistas da pandemia pegam nesse relatório, abanam-no, enquanto batem no peito e dizem com as bocas cheias de fel e a cabeça cheia de nada: “se estes modelos estão assim tão corretos onde estão as mortes?! Isto é tudo uma PALERMIA (um dos meus neologismos preferidos)”. Bem, caro negacionista, percorrendo o relatório com os olhos, numa atividade melhor descrita como “ler”, pode ser contatada a apresentação de cenários distintos – se houver isolação de casos, quarentena de casas com casos de covid-19 e distanciamento social da população de fora intermitente (medidas adotadas pelo Reino Unido) esses 400.000-550.000 rapidamente, como que por magia, se transformam em 47.000-120.000. Um número terrivelmente alto, ainda assim. Um número que agora peca por ser insuficiente para quantificar o número de mortes por COVID-19 no último ano no Reino Unido – mais de 120.000. As previsões não acertaram, é certo, mas, tal como os modelos, as INC não são exatas – há um nível variável de adesão por parte do público, motivado pela falta de clareza na comunicação governamental, pela falta de explicações para medidas, pela frustração de estar confinado após algumas semanas ou meses. Fora do mundo da estimativa exata, o comportamento humano dá-nos razões para querermos quantificar a incerteza.
O lixo não se perde, transforma-se
“Estamos a encher as pessoas de informação. Precisamos de a passar por um processador. Um humano tem de tornar essa informação em inteligência ou conhecimento. Esquecemo-nos que nenhum computador irá fazer uma pergunta nova.”
Grace Hopper, criadora da primeira linguagem de programação intuitiva e pioneira da computação.
“Em duas ocasiões perguntaram-me “diga-me, Sr. Babbage, se puser na sua máquina os números errados, ela diz-nos a resposta certa?” (…) não sou capaz de compreender o tipo de confusão de ideias que pode provocar uma questão assim.”
Charles Babbage, inventor do primeiro computador mecânico.
Outro aspeto dos modelos que ainda não referimos e dos quais eles dependem quando são aplicados ao mundo real são os dados, esse chavão eterno que simboliza o conhecimento objetivo. Contudo, será um dado elementar para registar o decorrer da pandemia como o número de casos assim tão objetivo? Se olharmos de forma agnóstica para a forma como a pandemia COVID-19 se desenvolveu em Portugal vemos um aumento brutal na primeira vaga, variações periódicas semanais, plateaus. Será tudo isto real? Comecemos por considerar o efeito do fim de semana, durante o qual são feitos menos testes, levando a variações que não representam oscilações reais nos contágios. Consideremos ainda aumentos ou alterações na capacidade e regime de testes, que inevitavelmente levam a alterações no número de casos registados, sendo que a isto junta-se ainda a possibilidade real de falsos positivos e falsos negativos. Algumas destas variações são fáceis de colmatar – para o efeito do fim semana basta assumirmos que durante o fim de semana esperamos apenas uma fração dos casos esperados. As outras fontes de variabilidade são mais difíceis ou até mesmo impossíveis de quantificar e contribuem para a diferença entre modelo e realidade. Através da quantificação da incerteza que já referi conseguimos lidar com parte desta variação, mas parte dela não é quantificável – os modelos acabam por “falhar”. Ou melhor, os modelos não conseguem acompanhar a alteração nas suposições iniciais, como um ritmo e regime constantes de testes (podemos ainda assim incorporar esta informação no nosso modelo). Por outras palavras, se elaborarmos um modelo mal formulado ou que não é capaz de incorporar fontes de variação ou a incerteza associada às mesmas não podemos esperar bons resultados.
Posto isto, podemos ainda falar num modelo que falha? Sim, mas não podemos ficar por aqui – apontar o dedo a alguém é um exercício catártico, mas, em última análise, inútil; se não conseguirmos compreender a fonte do erro o progresso é impossível. Os modelos falham porque as suposições iniciais estão erradas, sejam essas suposições referentes aos dados que temos ou à maneira como as pessoas circulam pelo país. Essas suposições vêm das pessoas que elaboram os modelos, mas também vêm da literatura científica que foi produzida até à data, sempre em constante atualização e, em momentos-chave, em revolução acesa. Ultimamente, a grande responsabilidade de quem faz investigação e produz conhecimento científico é fazer não só perguntas, mas sim as perguntas certas – algo melhor demonstrado no épico da sci-fi pop Hitchhiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Nele, perguntam a um computador superpoderoso qual é a resposta para o universo, ao que ele responde, depois de anos de cálculos: “42”. Ao ser feita uma pergunta demasiado vaga e sem conseguirmos restringir o campo de repostas possível, o computador deu a resposta mais exata que conseguiu para esse problema. Também a modelação no contexto epidémico sofre do mesmo problema – a resposta que um modelo nos dá não é à simples pergunta “como é que a pandemia vai progredir?”, mas sim à pergunta (mais complexa) “assumindo que as minhas suposições são verdadeiras e que o passado pode ser usado para perceber o futuro, como é que a pandemia vai progredir?”
A escolha das suposições, em última análise, é uma escolha que pode chegar a ser filosófica e subjetiva, mas que é também guiada pelo conhecimento disponível. Não são muitas as vezes em que um modelo pode ser considerado superior antes de ser posto à prova-os dados e a pergunta que queremos responder (devidamente feita) ditarão a melhor abordagem. Os modelos melhoram através de um processo iterativo e científico, com o aumento dos dados e conhecimento disponível. No entanto, é sempre importante manter em mente uma citação de autoria imprecisa: “é difícil fazer previsões, especialmente quando se trata do futuro”.
Considerando tudo isto, os modelos não perdem a utilidade – apenas têm uma utilidade que deve ser contextualizada. Com efeito, podemos comparar diferentes cenários pandémicos e tomar as melhores decisões na melhor altura. Enquanto que no início da pandemia as ações tomadas foram largamente preventivas, o que vemos a acontecer agora é uma série de governos a manobrarem e a balançarem uma miríade de fatores que incluem não só a saúde pública, mas também o estado psicológico e social da sociedade e a economia. Para isto, contam com peritas e peritos que combinam modelos teóricos e empíricos (que usam dados) e conhecimento da área para tomarem, pelo menos, decisões aceitáveis. Nem sempre corre da melhor maneira, mas a rede complexa de interações entre os vários eixos de uma sociedade leva a que tenha de haver compromissos: uma opção apenas se torna na melhor opção quando definimos prioridades – é preferível que haja um menor número de mortes ou um impacto económico mais ligeiro? Estas questões são, ultimamente, do domínio da política, pelo que não compete a este artigo respondê-las. Contudo, podemos indagar sobre o que acontece aos resultados dos modelos – e da sua incerteza – quando entram na esfera pública.
Os factos, ideologia e informação
“Não pode haver uma só história. Há apenas diferentes maneiras de ver. Portanto, quando eu conto uma história, conto-a não como uma ideóloga que quer pôr uma ideologia absolutista contra a outra, mas sim como uma escritora que quer partilhar a sua maneira de ver.”
Arundhati Roy, escritora e ativista indiana
“Fazemos para nós próprios imagens dos factos.”
Ludwig Wittgenstein, filósofo austro-britânico
“Não consegues polir um cagalhão, mas podes cobri-lo de brilhantinas.”
Autor desconhecido
Como já referi, uma medida poderá ser melhor ou pior consoante as prioridades que definimos – isto é motivado (também, mas não só) ideologicamente. Enquanto que certos quadrantes políticos irão ser maiores adeptos da manutenção da economia e da sua normalidade e colocam nessa manutenção a chave para que a manutenção da qualidade de vida seja mantida, outros pedirão que a mesma pare para que sejam salvas vidas. Nenhuma destas escolhas é motivada puramente por evidência, apenas por uma visão diferente da política – no primeiro caso, é elogiada a igualdade e liberdade enquanto expressões individuais dos meios materiais de cada indivíduo e da sua capacidade de participar no mercado. No segundo caso é elogiada a igualdade e liberdade enquanto a capacidade que um individuo tem em viver uma vida em que as suas condições – materiais, sociais, e não só – ditem o seu direito a uma existência digna.
Algures no meio, algures mais nos extremos, algures perdidos ou até mesmo algures fora do espectro que mencionei, toda a gente vai ser influenciada até certo ponto por aquilo em que acredita quando interpreta um número, um dado, uma figura – assim é a ubiquidade da ideologia. Pedidos por uma política, constituição ou medidas contra a pandemia covid-19 “sem ideologia” são pedidos vazios – pretendem apenas enaltecer uma falsa visão de que há política sem ideologia, assumindo que o conjunto de princípios que rege a sociedade ocidental não é ideológico, assumindo que há um estado fundamental que existe para lá da história; de facto, consoante o objeto de estudo que tenhamos, pode ser relevante, irrelevante ou contraproducente assumir que o mundo sempre foi assim. Numa história popular, um peixe velho diz a dois peixes mais novos: “Olá! Como está a água?” e continua a nadar. Um dos peixes mais novos olha para o outro e pergunta: “O que raio é água?” – se nascemos, crescemos e vivemos enterrados rodeados por uma ideologia dominante pode ser difícil reconhecê-la como ideologia. Deixemos, contudo, estas considerações durante o resto deste texto: falta-nos ainda perceber quando é que os resultados de um modelo se convertem numa questão de opinião.
Finjamos por um parágrafo que somos uma equipa de modeladores e epidemiologistas.
Quando calculamos um valor para o R em Portugal, estimado em a=1, mas provavelmente entre b=0,9 e c=1,1 (um intervalo que contém a) é só isso que ele é. Um conjunto de três números, o primeiro a oferecer uma estimativa do “valor esperado” e os outros dois a oferecerem um intervalo de confiança (uma medida de incerteza). Para o compreendermos melhor temos de o contextualizar temporalmente – queremos saber se faz parte de uma tendência crescente ou decrescente, ou se tem estado relativamente estável. Para além disto, há também interesse em comparar este valor com aquele que observamos noutros países – portanto para Espanha teremos um outro conjunto de valores que correspondem a a, b e c. Podemos até comparar para ambos os sítios a maneira como estes valores evoluem, extraindo assim informação sobre a aceleração da pandemia. Contudo, não nos podemos esquecer que todos estes cálculos envolvem suposições. Adicionalmente, quando queremos comparar medidas concretas implementadas em vários países e o seu impacto relativo no R, temos de aproximar uma série de coisas – temos de supor que as medidas terão um impacto semelhante em qualquer país em que sejam aplicadas, podemos ter de supor não só que cada país é homogéneo, mas que todo o conjunto de países é homogéneo, podemos ter de supor que o comportamento e adesão às medidas de todos os indivíduos em todos estes países é semelhante. Temos, por norma, de supor bastantes coisas.
Este complicado exercício de suposição não é errado, mas requer uma capacidade de oferecer explicações para, por exemplo, o porquê de o fecho das escolas ter um impacto tão considerável no R. Dentro de uma esfera de especialistas, quem percebe do assunto pode discuti-lo sem que haja más interpretações – poderá haver discórdias, mas em grande parte dos casos serão suportadas por dados ou hipóteses legítimas geradas por outras pessoas envolvidas no processo de investigação. Isto acontece porque em qualquer caso haverá sempre uma parte significativa da “verdade científica” que é inacessível – a pesquisa oferece-nos estimativas, mas elas são apenas isso, estimativas, que serão validadas (ou não) pela realidade observável ou por futuras gerações de jovens cientistas.
Até aqui há discórdias, mas não há, normalmente, questões ideológicas. Isto é algo que se verifica em maior parte dos casos, mas é importante manter presente na memória que em tempos a ciência ajudou a perpetuar crenças racistas e machistas e ajudou a justificar genocídios. Estes são exemplos claros e boçais de quando a “ciência” esteve ao serviço da ideologia, como uma arma empunhada por homens e instituições execráveis. Contudo, para este caso, vamos considerar o nosso caso simples – dados, modelo, resultado – em que a interpretação subjetiva dos factos tem pouco por onde existir. E claro, neste caso, haverá discórdias relativamente aos métodos aplicados e às suposições usadas, mas é por isso que a variedade de abordagens legítimas pode ser importante na ciência – permite-nos construir uma ideia mais completa daquilo que é a realidade quantificável. Ao passarmos para o domínio público – através de conferências de imprensa, reportagens, entrevistas a especialistas, etc. – é que começamos a ver um fenómeno de simplificação brutal. De forma a tornar uma mensagem o mais abrangente possível, temos de simplificar alguns aspetos técnicos e teóricos. Isto, por norma, não tem mal, mas cria situações em que a comunicação é frequentemente ambígua – por exemplo, quando falamos no “pico da pandemia”, a que é que nos referimos, em concreto? Conseguimos realmente estimar o dia específico ou apenas um intervalo de dias? Estamos a falar do pico de infeções, de contágios, de casos ou de mortes? Isto cria a possibilidade de que sejam feitas interpretações, que podem ser informadas por conhecimento na área ou egoístas, e que correspondam à realidade que mais convém à nossa narrativa interna, à nossa ideologia temos toda uma ilusão montada por nós a partir das simplificações que ouvimos nos meios de comunicação social e através da classe política ou outras pessoas. Outra frequente miragem vem da reportagem diária do número de casos – cria-se uma ilusão de que a variação que medimos por dia é relevante e absoluta, quando o que nos interessa são tendências que duram semanas e não nos é dito quantos testes foram feitos.
Neste crivo de informação pelo qual o conhecimento passa resta pouco de científico – apenas o que cada especialista considera suficiente – mas muito de especulativo; ficamos reféns das nossas imagens do mundo, reféns da história que cada especialista nos quer contar. Talvez seja uma especialista em virologia e, portanto, tente transmitir-nos uma mensagem mais focada na sua área, ou talvez seja uma médica pneumologista e crie para nós uma imagem diferente. Por vezes há até modelos contraditórios, deixando-nos perdidos neste universo de resultados concretos com pouco contexto. Por vezes o mesmo resultado pode ter alguma ambiguidade, abrindo portas a interpretações que favorecem que as faz.
Por isso, quando um modelo erra é difícil percebermos o porquê – não sabemos grande parte das decisões que foram feitas para chegar à estimativa final, apenas que está mais ou menos certa (isto quando temos acesso sequer às estimativas geradas pelo modelo). Uma classe política que se preze minimamente deve disponibilizar detalhes técnicos e científicos sobre os modelos que usa, deve esforçar-se por tornar disponíveis dados, algoritmos e modelos em tempo útil, deve colocar-se numa posição de escrutínio e deve exigir tudo isto a quem consulta. É gratificante ver que a política recorre à ciência para tomar as suas decisões, mas não é gratificante ver que, ao fazê-lo, participa num processo de ocultação da ciência que usa, resumindo tudo a elaboradas apresentações de difícil acesso e pouca documentação. Esta linha de pensamento, que vai de “especialistas disseram que X é bom” a “nós fizemos X” num só movimento não é capaz de criar confiança pública nas instituições científicas. Claro que, se as medidas resultarem num bom desfecho, as pessoas estarão mais dispostas a confiar em quem toma decisões e na ciência em que se apoiam. Mas e se isso não acontece? Como é que nós, cientistas interessados em informar o público, podemos explicar porque é que os modelos erram quando não os podemos ver? Como é que impedimos alguém de interpretar dados de forma indevida quando não há meios claros de o impedir? Como é que podemos reverter o efeito nocivo das teorias da conspiração quando o conhecimento é inacessível? Há quem acredite que há um dever inerente à profissão científica que nos coloca a todos – investigadoras e investigadores – numa posição em que devemos permitir que aqueles à nossa volta percebam melhor o mundo. Eu acredito nisso e gostava de poder fazê-lo mais frequentemente. Para isso, contudo, preciso de maior transparência e de uma política de acesso aberto sobre os painéis de especialistas num formato que permita o escrutínio. Já é feito – até certo ponto – por algumas instituições com membros que aconselham o governo, como o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. No entanto, é também preciso que haja um esforço à larga escala por educar todas e todos quanto à melhor maneira de analisar estes relatórios, quanto às suas limitações. É importante que as pessoas confiem na ciência, mas também é importante que a ciência se converta em algo inflexível e dogmático ou, por outro lado, em algo que é distorcido e moldado até dar uma resposta que não tem. É preciso que percebamos que, tal como Carl Sagan disse, “a ciência é mais uma maneira de pensar do que um corpo de conhecimento”. Mais do que um conjunto de verdades, a ciência é um processo que tenciona revelar quantidades cada vez maiores do mundo. Para isso, temos de deixar que ela nos guie.
José Guilherme de Almeida